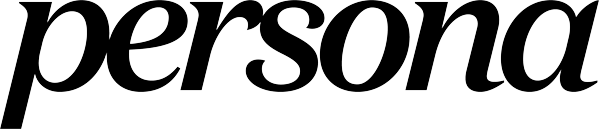Santa-mariense de 56 anos, Carmen Lucia Chaves morou a maior parte da sua vida em Santa Maria. Desde que nasceu até os dias de hoje ela vive no Bairro Chácara das Flores, onde seus avós maternos - ele ferroviário e ela merendeira - se instalaram quando chegaram em Santa Maria. Filha de Elsa Coelho Chaves e Severo Chaves, ela é artesã, presidente e uma das fundadoras da associação Ará Dudu, que tem como bandeira a luta contra o racismo e o incentivo da cultura negra. Mãe de quatro filhas. Lidiane, Queise, Kauane e Meline, ela é avó de sete netos, ela se dedica a lutar por uma sociedade sem preconceitos pela cor da pele. Leonina, filha de Iansã e apaixonada pela Vila Brasil, ela também está presente nos movimentos contra homofobia, contra o machismo e contra o preconceito religioso. Apesar disso, prefere dizer que apenas luta por uma sociedade justa e igualitária. Nos documentos, é Carmen Lúcia, mas todos a conhecem por Baiana, apelidou que ganhou ainda criança do avô.
Você sempre morou e trabalhou em Santa Maria?
Eu nasci e me criei em Santa Maria, meus avós maternos vieram de Catanduva, em São Pedro do Sul. Apesar de ser pertinho, nunca conheci o lugar. Desde que a minha mãe tem 12 anos de idade a família moa na Chácara das Flores, quando ainda era quase só mato. E eu não me imagino morando em outro lugar. Morei cerca de 20 anos fora daqui, entre Porto Alegre e Canoas, mas sou santa-mariense. Trabalhei por 10 anos como assistente de radiologia, mas hoje a minha paixão e o que gera renda para mim é o artesanato.
Como surgiu o Ará Dudu e qual é a sua relação com a história do grupo?
O Ará Dudu surgiu como um grupo que trabalhou antes no Museu Treze de Maio. Neste grupo tinha Nei D'Ogum que se movimentava muito, se comunicava com muitas pessoas de muitos lugares. Ele era um ativista e não tinha um projeto só, tinha vários. Ele tinha uma coisa muito boa: emponderava a mulher negra, a mulher que queria fazer uma rima... E aí eu, ele e mais algumas pessoas nos reunimos, pela primeira vez, na frente do RU (Restaurante Universitário). E foi assim, começamos com reuniões no RU, no DCE, na Prala Saldanha Marinho. Desse movimento nasceu o filme Dona Lila e depois nasceu o coletivo. Foi lançado o edital da incubadora social da UFSM e nós fomos um dos contemplados. E aí com o tempo nós tínhamos que virar uma cooperativa ou associação, e aí cinco anos após ser um coletivo, viramos uma associação e foi quando eu virei presidente. Isso foi pouco há pouco mais de um ano.
Pode contar um pouco do trabalho do Ará Dudu?
Quando veio a proposta de eu virar presidente, pensei "e agora? o que eu faço?". Tem muitas pessoas no coletivo, mas parte delas também tem uma vida acadêmica e, na época, estavam dedicados ao final do curso e outras coisas. A Isadora (Isadora Bispo, integrante da associação) me ligou e disse "precisamos conversar e tocar o Ará Dudu". Eu não sabia nem por onde começar. Daí veio o convite do Dartanha (Baldez) com as fotografias de muitos negros na área da ciência, depois vieram as bonecas negras... quando a direção já formada, resolvemos chamar a mulherada da periferia e tocamos as oficinas. Aí veio o mês da Consciência Negra e lá estávamos nós, em Santa Maria, fora de Santa Maria, no quilombo, na universidade, nas escolas. Aí nós organizamos a Muamba, por exemplo, que nesse ano vai sair após ganharmos um edital, o Selma do Coco, em novembro do ano passado organizamos o Nei Day (homenagens a Nei D'Ogum, militante social que morreu). Nós não temos um real em caixa, mas temos muitas parcerias. Lá você vai encontrar uma pós-doutora, uma faxineira, gay, lésbica, mãe de santo, negro, branco... todo mundo.
Como você começou a ser militante e quais as causas você defende?
Eu comecei a me entender como negra dentro da minha casa, na minha família. A minha avó, desde que chegou em Santa Maria, precisava a complementar a renda em casa e começou lavando roupas para os hotéis da Rio Branco e da Rua Sete, e depois virou merendeira de uma escola municipal. Minha mãe e minhas tias também, sempre trabalharam. Mas sobre a escravidão, o pessoal mais velho não falava. A gente só sabia o que ouvia na escola ,que era distorcido. Hoje eu entendo como a política me influenciou em tudo e a ter ainda mais consciência. Faz tempo que a gente vem nessa caminhada? Sim, faz tempo. Mas é uma luta constante, às vezes para que o resultado não vem. A gente luta há tempos e ainda hoje o racismo está aí escancarado, assim como o machismo, a homofobia. Às vezes parece que não plantamos a semente, que não vingou. Mas aí quando vem uma menina e diz "tu me representa" eu me dou conta que muitas pessoas dependem de mim e a luta continua. O que me deu um gás agora é que veio a Mangueira (campeã do Carnaval no Rio) e disse tudo aquilo que está entalado na garganta de vários negros, do povo periférico. Mas não é fácil.
Como surgiu a história de confeccionar bonecas negras?
As bonecas surgiram assim: o primeiro modelo veio para acabar com a implicância que algumas pessoas têm com o cabelo lembro. Tinha um grupo na universidade que tinha muito preconceito com os negros, falavam que os cabelos atrapalhavam na sala de aula. Aí fiz uma boneca negra com black (power) para mostrar que não atrapalha ninguém, que a mulher negra tem muitas maneiras de usar o cabelo e de qualquer forma fica bonito. Depois criei bonecas como se fossem mães de santo, também para lutar contra os preconceitos. As pessoas não podem falar sobre uma religião, julgar sem conhecer. Aí começamos as oficinas no prédio da antiga reitoria da UFSM e onde vamos dar palestras, falar sobre o assunto, elas são expostas para venda e o dinheiro é dividido entre a mulherada que ajudou a construir. Ah, e o material é reutilizado.
Por que te chamam de Baiana se você é nascida no Rio Grande do Sul?
É muito difícil alguém de machamar de Carmen ou de Lúcia, só algumas pessoas que trabalhavam comigo. Aqui em Santa Maria só me chamam de Baiana, é um apelido que veio da minha família desde criança. Meu avó materno colocou esse apelido por causa do meu outro avô, que veio da Bahia e veio parar no Rio Grande do Sul. Eu tive pouco contato com ele, porque morreu muito novo. Eu sou a primeira neta dos dois lados, e daí veio o apelido, Baiana, que é lindo e eu adoro. Agora algumas pessoas nem me chamam de Baiana mais e apenas de Bai.
Eu comecei a me entender como negra dentro da minha casa, na minha família. A minha avó era merendeira de uma escola municipal e o meu avô era ferroviário. Quando eles vêm e se estabelecem em Santa Maria, a minha vó, cheia de filho - os dois deixaram a lavoura e vieram para cidade, tinha que complementar a renda - a vó começa a lavar roupa para os hoteis, que tinham na Rio Branco, ali na Rua Sete. E depois ela passa ser funcionária municipal. A mãe, depois que se aposentou, começou a trabalhar com artesanato. Minha vó, minha mãe, minhas tias sempre trabalharam. Mas tinha uma coisa assim sobre a escravidão, de fato, o pessoal mais velho não falava. A gente sabia aquilo que escutava na escola, distorcida né. Eu nunca vi a minha avó e o meu avô falando sobre isso, e eles tinham as informações mais segura porque com certeza eles devem ter conhecido pessoas que vieram logo após a abolição, mas na minha família não se falava isso. Hoje eu me identifico como mulher negra de ter visto elas trabalhando desde cedo, não porque me falavam sobre a escravidão. Eu consigo entender tudo isso vendo a minha vó, e hoje eu consigo entender bem mais o quanto a política influenciou em tudo. Faz tempo que a gente vem nessa caminhada? Faz tempo. Mas o resultado parece que não vem. É uma luta constante. A gente arruma uns parceiros para caminhada, mas não sei o que acontece. Teve o movimento hippie, era bonito enquanto era jovem. Muitas pessoas pegaram só a onda e quando ficaram um pouco mais velho ficaram quietos. Alguns estão aí, fizeram acontecer. E em outros movimentos é a mesma coisa, tu consegue parcerias, mas às vezes parece que é só curtição.
Eu tive amigas brancas que gritavam junto toda essa questão e depois de um certo tempo o racismo está aí escancarado, para todo mundo ver, assim como machismo, homofobia. Hoje a gente se depara com pessoas que tem 18, 19 anos que são machistas, homofóbicas, racistas... que se viu na última eleição. Parece que não plantamos a semente, que não vingou.
A gente vai para rua, fala sobre um assunto, e daqui a 10 anos vamos falar no mesmo assunto de novo. O que acontece? É cansativo né? Eu vi tanta transformação, vi comunidades que não tinham onde morar e que hoje em dia tem casa. Eu não consigo entender, mas eu tô aí, na luta. Não vou dizer que não tenha conquista. Quando eu escuto de uma menina "tia, tu me representa!". Quando alguém mais velho vem e diz "Baiana, queria ser que nem tu!" aí vem a vontade, daí tu vê que tem crianças que dependem de ti e a luta continua. Pelo tempo que a gente está na luta as coisas poderiam estar diferente. O que deu um gás na gente é que veio a Mangueira (campeã do Carnaval do Rio neste ano) e fala é o que está entalado na garganta de vários negros, do povo periférico, a Tuiuti e outras escolas mostraram. Mas não é fácil.
Presidenta do Ará Dudu. O Ará Dudu surgiu de um grupo que trabalhava, antes, no Museu Treze de Maio. E Nei D'Ogum se movimentava muito. Quando o pessoal estava aqui em Santa Maria pensando em x coisas, o Nei já estava se comunicando com Porto Alegre, com Pelotas, com Brasília, com o Rio de Janeiro... Ele era um ativista e não tinha um projeto só, o Nei tinha o Corap, o terreiro, várias pessoas ligadas ao Nei já trabalhando em outros coletivos que giravam com o Nei. Ele tinha uma coisa muito boa: ele empoderava a mulher negra, a mulher que queria fazer uma rima. Ele ia passando contato para todo mundo. E a gente começou a trabalhar fazendo encontro do DCE, na Praça Saldanha Marinho, na frente do RU, na Estação da Gare. A Muamba é um baita do projeto que a primeira reunião foi a gente sentado na frente do RU, quando o Nei coloca a proposta. E o Ará Dudu ainda não tinha nascido e nasce o filme Dona Lila, que é um evento grande e depois o Ará Dudu nasce como um coletivo, é lançado em um Viva o Campus.
_ O Ará Dudu, pelo edital da incubadora social da UFSM, é um dos contemplados. E depois, dentro da incubadora, tinha que virar ou cooperativa ou associação, e virou associação. Quando vem a proposta de eu ser a presidente eu estava pensando "vou me dedicar mais para mim, vou participar das oficinas", mas eu fazia parte do coletivo, a Marta estava com a viagem marcada para os Estados Unidos, e eu pensei "e agora? o que eu faço?". Tem outras pessoas, mas todo mundo já engatilhando alguma coisa para fazer.E a incubadora nos cobrando associação. Fizemos assembleia, eu saí presidente. E de novo, "e agora, o que eu faço?". A Isadora me ligou "precisamos conversar, precisamos tocar o Ará Dudu" e eu respondi "não sei nem por onde começar". Aí veio o convite do Dartagnhan, as bonecas, e aí cresceu... fomos nos organizando. Dentro do Ará Dudu tem uma pós-doutorada, tem uma faxineira, tem um gay, uma lésbica, um branco, um negro, gente de toda a religião, tudo tu encontra no Ará Dudu. Vamos chamar as mulheres, daí viramos associação, direção formada, a incubadora nos cedeu o espaço e nós resolvemos chamar a mulherada da periferia, tocando as oficinas. Aí vem o mês da consciência negra e nós estamos lá, em Santa Maria, fora de Santa Maria, no quilombo. Começamos a visitar algumas escolas. Adoro o mÊs de novembro, mas se é pra ter consicência, quero ter o ano todo. E muitas escolas nos chamaram em outros meses. A gente nunca teve um real em casa, mas sempre teve as parcerias. No Nei Day a gente conseguiu 25 atrações, claro que teríamos que pagar, mas todos aceitaram ir de graça porque o Nei sempre apoiou todo mundo. Movimento de rua, e aí o Ará Dudu ganha com o edital Selma do Coco.
Santamariense nascida em 18 de agosto de 1962, Baiana é filha de Elsa Coelho Chaves com Severo Chaves. Carmen Lucia é mãe de quatro filhas: Lidiane, Queise, Kauane e Meline, que assim como os netos, são as alegrias de sua vida, bem como a relação de união e cumplicidade que os sustentam.
Carmen Lucia Chaves, 56 anos, artesã
_ Trabalhou 10 anos como atendente de radiologia, mas a profissão que eu gosto é o artesanato, e é a profissão que gera renda para mim. Hoje estou mais direcionada ao trabalho dentro do Ará Dudu, mas mesmo assim, com o artesanato voltado para a mulher negra, e hoje a gente tem pensado um artesanato com as mães de santo e nos eventos fechados, quando estamos trabalhando sobre negras e negros, a gente coloca em exposição e o que vende é dividido entre a mulherada que participou da produção.
_ Nascida em Santa Maria, mora desde que nasceu na Chácara das Flores, local onde a mãe dela mora desde criança, quando chegou em Santa Maria. Só não morou no bairro quando morou em Porto Alegre. Os avós eram de Catanduva, interior de São Pedro do Sul, chegam em Santa Maria e se estabelecem no Chácara das Flores quando poucas pessoas habitavam o bairro. "Não conseguia morar em outro lugar se não naquela região, que para mim é linda". Foi casada duas vezes, mãe de duas Lidiane Nascimento e Queise Nascimento, do primeiro casamento. Meline Cabral, Kauane Cabral.
Avó de oito netos: Iaritza, Litza, Queila, Pietra, Kauã, "Onde vai uma, vai todo mundo. Ainda mais que agora todos moram aqui em Santa Maria. Nós somos muito ligados, a gente se ama, às vezes briga, discute, eu até me confundo porque tem horas que parece que somos todas irmãs.
_ Presidenta do Ará Dudu. O Ará Dudu surgiu de um grupo que trabalhava, antes, no Museu Treze de Maio. E Nei D'Ogum se movimentava muito. Quando o pessoal estava aqui em Santa Maria pensando em x coisas, o Nei já estava se comunicando com Porto Alegre, com Pelotas, com Brasília, com o Rio de Janeiro... Ele era um ativista e não tinha um projeto só, o Nei tinha o Corap, o terreiro, várias pessoas ligadas ao Nei já trabalhando em outros coletivos que giravam com o Nei. Ele tinha uma coisa muito boa: ele empoderava a mulher negra, a mulher que queria fazer uma rima. Ele ia passando contato para todo mundo. E a gente começou a trabalhar fazendo encontro do DCE, na Praça Saldanha Marinho, na frente do RU, na Estação da Gare. A Muamba é um baita do projeto que a primeira reunião foi a gente sentado na frente do RU, quando o Nei coloca a proposta. E o Ará Dudu ainda não tinha nascido e nasce o filme Dona Lila, que é um evento grande e depois o Ará Dudu nasce como um coletivo, é lançado em um Viva o Campus.
_ O Ará Dudu, pelo edital da incubadora social da UFSM, é um dos contemplados. E depois, dentro da incubadora, tinha que virar ou cooperativa ou associação, e virou associação. Quando vem a proposta de eu ser a presidente eu estava pensando "vou me dedicar mais para mim, vou participar das oficinas", mas eu fazia parte do coletivo, a Marta estava com a viagem marcada para os Estados Unidos, e eu pensei "e agora? o que eu faço?". Tem outras pessoas, mas todo mundo já engatilhando alguma coisa para fazer.E a incubadora nos cobrando associação. Fizemos assembleia, eu saí presidente. E de novo, "e agora, o que eu faço?". A Isadora me ligou "precisamos conversar, precisamos tocar o Ará Dudu" e eu respondi "não sei nem por onde começar". Aí veio o convite do Dartagnhan, as bonecas, e aí cresceu... fomos nos organizando. Dentro do Ará Dudu tem uma pós-doutorada, tem uma faxineira, tem um gay, uma lésbica, um branco, um negro, gente de toda a religião, tudo tu encontra no Ará Dudu. Vamos chamar as mulheres, daí viramos associação, direção formada, a incubadora nos cedeu o espaço e nós resolvemos chamar a mulherada da periferia, tocando as oficinas. Aí vem o mês da consciência negra e nós estamos lá, em Santa Maria, fora de Santa Maria, no quilombo. Começamos a visitar algumas escolas. Adoro o mÊs de novembro, mas se é pra ter consicência, quero ter o ano todo. E muitas escolas nos chamaram em outros meses. A gente nunca teve um real em casa, mas sempre teve as parcerias. No Nei Day a gente conseguiu 25 atrações, claro que teríamos que pagar, mas todos aceitaram ir de graça porque o Nei sempre apoiou todo mundo. Movimento de rua, e aí o Ará Dudu ganha com o edital Selma do Coco.
_ Bandeiras do Ará Dudu?
Quando eu digo que o Ará Dudu foi formado por negros, brancos, está faltando uma etnia, que é o índio.
5 ano como coletivo e 1 como associação
Tu é uma mulher que milita por várias causas?
Eu comecei a me entender como negra dentro da minha casa, na minha família. A minha avó era merendeira de uma escola municipal e o meu avô era ferroviário. Quando eles vêm e se estabelecem em Santa Maria, a minha vó, cheia de filho - os dois deixaram a lavoura e vieram para cidade, tinha que complementar a renda - a vó começa a lavar roupa para os hoteis, que tinham na Rio Branco, ali na Rua Sete. E depois ela passa ser funcionária municipal. A mãe, depois que se aposentou, começou a trabalhar com artesanato. Minha vó, minha mãe, minhas tias sempre trabalharam. Mas tinha uma coisa assim sobre a escravidão, de fato, o pessoal mais velho não falava. A gente sabia aquilo que escutava na escola, distorcida né. Eu nunca vi a minha avó e o meu avô falando sobre isso, e eles tinham as informações mais segura porque com certeza eles devem ter conhecido pessoas que vieram logo após a abolição, mas na minha família não se falava isso. Hoje eu me identifico como mulher negra de ter visto elas trabalhando desde cedo, não porque me falavam sobre a escravidão. Eu consigo entender tudo isso vendo a minha vó, e hoje eu consigo entender bem mais o quanto a política influenciou em tudo. Faz tempo que a gente vem nessa caminhada? Faz tempo. Mas o resultado parece que não vem. É uma luta constante. A gente arruma uns parceiros para caminhada, mas não sei o que acontece. Teve o movimento hippie, era bonito enquanto era jovem. Muitas pessoas pegaram só a onda e quando ficaram um pouco mais velho ficaram quietos. Alguns estão aí, fizeram acontecer. E em outros movimentos é a mesma coisa, tu consegue parcerias, mas às vezes parece que é só curtição.
Eu tive amigas brancas que gritavam junto toda essa questão e depois de um certo tempo o racismo está aí escancarado, para todo mundo ver, assim como machismo, homofobia. Hoje a gente se depara com pessoas que tem 18, 19 anos que são machistas, homofóbicas, racistas... que se viu na última eleição. Parece que não plantamos a semente, que não vingou.
A gente vai para rua, fala sobre um assunto, e daqui a 10 anos vamos falar no mesmo assunto de novo. O que acontece? É cansativo né? Eu vi tanta transformação, vi comunidades que não tinham onde morar e que hoje em dia tem casa. Eu não consigo entender, mas eu tô aí, na luta. Não vou dizer que não tenha conquista. Quando eu escuto de uma menina "tia, tu me representa!". Quando alguém mais velho vem e diz "Baiana, queria ser que nem tu!" aí vem a vontade, daí tu vê que tem crianças que dependem de ti e a luta continua. Pelo tempo que a gente está na luta as coisas poderiam estar diferente. O que deu um gás na gente é que veio a Mangueira (campeã do Carnaval do Rio neste ano) e fala é o que está entalado na garganta de vários negros, do povo periférico, a Tuiuti e outras escolas mostraram. Mas não é fácil.
_ Como surgiu a história de confecionar as bonecas pretas?
As bonecas surgem assim: o primeiro modelo vem da implicância que as pessoas têm com o cabelo do negro. O primeiro modelo eu fiz a boneca bonitinha, mas com black (power) para desconstruir a ideia de que o cabelo do negro. O Nei perguntou se eu conseguia fazer algum tipo de artesanato voltado para a questão do negro. A ideia é mostrar que não atrapalha ninugém. Só que a mulher negra não tem uma maneira só de usar o cabelo, ela pode usar e abusar e de qualquer forma mais ficar bonito. E fazer a boneca foi para dizer isso. Teve uma época que teve um grupo dentro da UFSM que faziam horrores para os negros, falavam que os cabelos atrapalhavam em sala de aula, e aí surgiu essas bonecas. Depois vieram as fofas pretas, para a auto-estima da mulherada. Depois criei bonecas como se fossem mães de santo, também são formas de quebrar estigmas e de mostrar para as pessoas que a gente não pode julgar uma religião sem conhecer. As oficinas acontecem aqui e onde a gente vai dar palestras, falar sobre o assunto, elas são comercializadas: na Feicoop, na JAI. As bonecas são de pano, material que é reaproveitado porque comprar é caro. Quando precisa comprar algo sai um pouquinho do bolso de cada um.
_ Por que Baiana?
Muito difícil alguém me chamar de Carmen ou de Lúcia, mais o pessoal que trabalhou comigo. Só me chamam de Baiana, mas é um apelido que vem da família, meu avô materno que me colocou esse apelido por causa do meu outro avô, que era da Bahia e veio parar no Rio Grande do Sul, mas ele morreu muito novo e eu tive muito pouco contato com ele. Eu sou a primeira neta dos dois e veio o apelido, que é bonito e eu adoro. As pessoas que convivem comigo, ninguém chama pelo meu nome. Agora mudaram Baiana para Bai.